Artigos5 setembro 2024
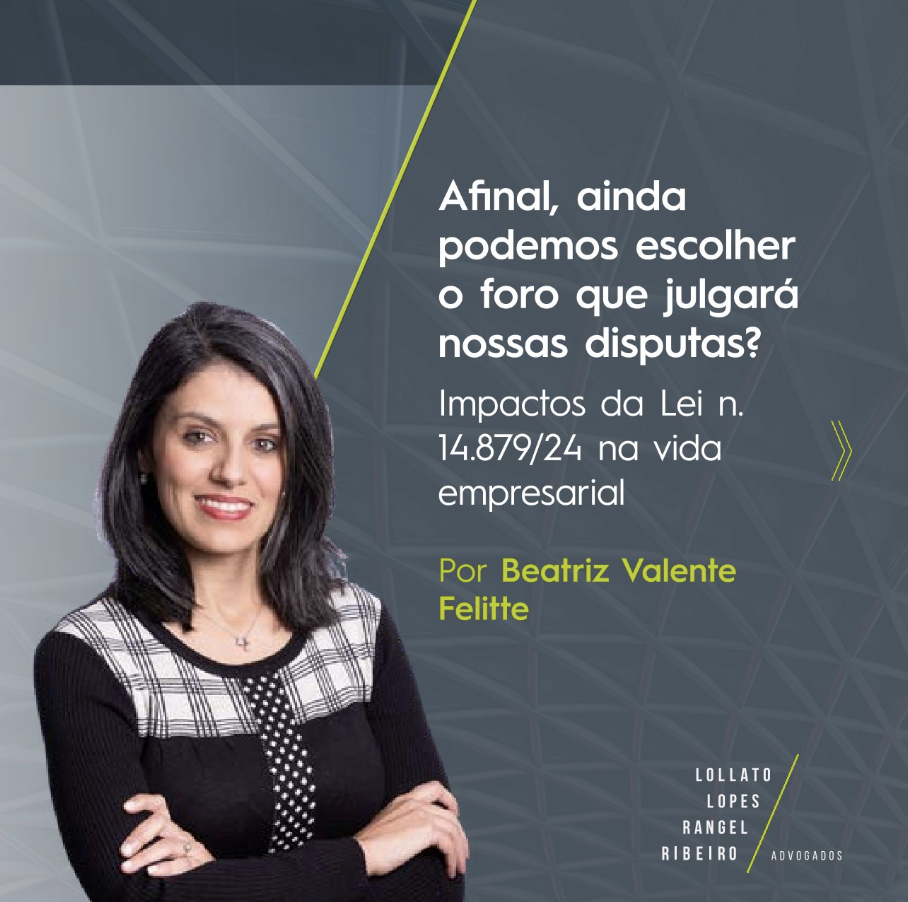
No dia 4 de junho de 2024 o mundo empresarial brasileiro – e os próprios processualistas – foram pegos de surpresa com a publicação da Lei n. 14.879/2024, que alterou o art. 63 do Código de Processo Civil brasileiro para passar a prever que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
Até então, a legislação brasileira permitia às partes, em negócios jurídicos celebrados por escrito, eleger o foro onde será proposta ação que envolva direitos e obrigações decorrentes daquele negócio. Essa possibilidade de modificação da competência (ou seja, dó poder atribuído a um órgão jurisdicional para processar e julgar uma demanda) pelas próprias partes envolvidas, há tempos, é permitida pela lei para aqueles casos em que a competência é atribuída em razão do valor ou do território, não podendo ser convencionada quando essa competência é prevista pela própria lei em razão da matéria, da pessoa ou da função (como p. ex., ações fundadas em direito real sobre imóveis, inventários, ações de família, entre outros).
Essa possibilidade de escolha do foro sempre foi um importante elemento de assunção de risco no mundo empresarial. Especialmente em comarcas onde há especialização de varas para julgamento de matérias específicas, a prévia escolha de foro entre os contratantes é, inegavelmente, uma relevante fonte de previsibilidade. Com a especialização, é de se esperar que juízas e juízes tenham conhecimento mais profundo sobre os assuntos pré-definidos, que adquiram mais experiência em casos similares, que tendam a adotar entendimentos coerentes e coesos para os mesmos temas e, com isso, que a curva de aprendizado permita uma tramitação mais rápida do processo. Essa expectativa é um prato cheio a todo e qualquer sujeito atuante no mercado: permite previsibilidade, segurança e menor risco na tomada de decisões estratégicas.
A alteração, muito mais do que simplesmente infeliz, merece diversas críticas não apenas pela perspectiva da técnica processual em si, mas também pela sua duvidosa constitucionalidade, além de instalado hoje um completo cenário de incerteza e instabilidade no mercado empresarial – afinal, ainda podemos escolher o foro que julgará nossas disputas?
A questão, a princípio, se impõe apenas para demandas de conhecimento que envolvam jurisdição brasileira. A eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional continua plenamente admitida e garantida pelo art. 25 do CPC e não nos parece ter sido afetada pela nova redação do art. 65 do CPC. Quanto às execuções de título extrajudicial, das duas, uma: ou a alteração se esqueceu ou não alterou a atual sistemática. O art. 781, I do CPC continua inalterado, prevendo que a execução pode ser propostas no foro de domicílio do executado, no foro eleito pelo título ou no foro da situação dos bens a ela sujeitos, sem nenhuma ressalva quanto à presumida abusividade do “foro aleatório”.
Apesar de ter recém completado 3 (três) meses de existência, há alguma esperança no meio jurídico de que sua aplicação seja rechaçada por nossos Tribunais ou, no mínimo, ela tenha sua interpretação flexibilizada. Entendemos que algumas razões são (ou deveriam ser) determinantes para que isso aconteça. Vejamos:
5º) Na pior das hipóteses, se mantida, a disposição deveria se aplicar apenas a contratos firmados após 04.06.2024
1º) A justificativa do Projeto de Lei se refere a problema local sem base empírica e sem expressão nacional
A justificativa do Projeto de Lei n. 1.803/2023 apresentado à Câmara dos Deputados, embasa a previsão no propósito de “coibir a prática abusiva’” da cláusula de eleição de foro “sob pena de se tornar um mero instrumento para escolha dos tribunais que apresentam melhor desempenho no País e, consequentemente, em detrimento da jurisdição em que atuam”. Estranhamente, o único e solitário “exemplo” apresentado na Justificativa seria o alegado recebimento pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) de uma “enxurrada de ações” mesmo sem relação com o local pelo (suposto) fato de que os processos por lá “tramitam mais rápido do que na maior parte do país”.
Além da baixa fundamentação empírica dessa justificativa – hoje pouco aceitável, diante de diversas plataformas estatísticas disponibilizadas pelo próprio CNJ – é até discutível se o único “exemplo” apresentado de fato se sustenta. De acordo com as estatísticas disponibilizadas no portal DATAJud, o tempo médio de um processo[1] perante o TJDFT (698 dias), de fato, é menor do que em tribunais mais densos como o TJSP (1.637 dias) ou TJRJ (1.479 dias), mas ainda assim é maior do que em outros tribunais como TJAM (440 dias) TJTO (636 dias).
De todo modo, se realmente a prática da justifica vinha sendo observada, causa algum estranhamento que uma alteração que implica reforma de legislação federal em matéria processual (de competência privativa da União, conforme art. 24 da Constituição Federal) e afeta controvérsias contratuais de todo o país tenha se justificado, pontualmente, por um problema apenas local.
2º) Abuso e deslealdade (que estão no plano da validade e não da eficácia) não se presumem e, se detectados, podem ser coibidos por meios já existentes
Chama atenção também a nova determinação legal de que o ajuizamento de ação em “juízo aleatório” – que o próprio legislador conceituou como sendo “aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda” – é uma prática abusiva que justificaria a declinação da competência de ofício pelo magistrado ou magistrada (art. 63, §5º, CPC). Ou seja, a recusa à jurisdição independentemente de arguição pelas partes envolvidas.
Primeiro, merece destaque a impropriedade técnica (apesar do pouco efeito prático à vida real do mercado e dos contratos). A mudança qualifica o juízo aleatório como prática abusiva (§5º) mas atribui como sua consequência a não produção de efeitos (§1º). Como se sabe, contudo, a abusividade contratual macula o ato jurídico no plano de sua validade e não (ou não necessariamente) o plano da eficácia.
Em segundo lugar, a premissa por si só já é discutível. “A boa-fé se presume, a má-fé se prova” – é o que já havia consolidado o STJ expressamente no Tema Repetitivo 243, além de ser o racional de diversas outras decisões nos mais diversos temas em direito. O §5º do art. 63 do CPC, introduzido agora pela Lei n. 14.879/2024, vai em sentido totalmente contrário ao presumir que a eleição de juízo diverso do domicílio das partes ou do negócio é automaticamente abusivo e, assim sendo, nulo / inválido (o abuso, ao que consta, se dá no plano da validade). Ora, se há alguma litigância predatória – como parece induzir a justificativa que originou o PL aprovado – isso deve ser analisado em situações concretas, à luz de elementos de cada caso, e não presumidas como conduta não-conforme a todo e qualquer jurisdicionado.
3º) Se há presunção, seria relativa, admitindo prova em contrário e garantindo-se a oitiva dos envolvidos
Ainda que se admitisse ser correta essa presunção de má-fé (conduta predatória), o que não parece ser, essa presunção teria natureza relativa e não absoluta. Significa dizer: admite que as partes demonstrem que a eleição de foro diverso de seu domicílio ou do negócio tem razão de ser. E mais: mesmo se tratando de matéria que possa ser decidida de ofício (sem a provocação das partes), é obrigatório que o magistrado dê oportunidade às partes para que se manifestem sobre o tema, evitando-se “decisão-surpresa” conforme exigências dos arts. 9º e 10 do CPC – dispositivos integrantes do capítulo de normas fundamentais e não excepcionados pelo art. 63 do CPC.
Aliás, a própria ressalva feita pelo §1º quanto à eleição de foro em relações consumeristas põe em dúvida a ratio da modificação. Se há previsão de que a eleição de foro em “juízo aleatório” é admitida na pactuação consumerista “quando favorável ao consumidor”, é possível admitir as hipóteses em que o foro eleito não é aquele do domicílio da parte ou do local da obrigação e, ainda assim, é o mais favorável ao consumidor por outras razões. Ou seja, neste caso, não importaria na verdade a correlação com o local da parte ou da obrigação em disputa. Ora, se assim é, por qual razão não poderia se admitir o processamento e julgamento em uma comarca que consensualmente é reputada como a mais favorável por ambas as partes? O racional, ao que parece, não tem lógica.
4º) A presunção de abusividade está em contrariedade às previsões constitucionais de autonomia da vontade e à liberdade da atividade econômica e, no mínimo, vai na contramão do sistema civil e processual brasileiros, que privilegiam a liberdade de negociação e o autorregramento das partes. Com isso, prejudica a segurança jurídica e a própria tutela da confiança
O aspecto mais grave da modificação, contudo, parece ser o seu descompasso com o nosso atual sistema de preservação da autonomia da vontade e da liberdade econômica – o que, de alguma forma, tem força para pôr em dúvida a própria constitucionalidade do conteúdo da lei.
O art. 170 da Constituição Federal não deixa dúvidas ao prever que a ordem econômica é fundada na livre iniciativa e na liberdade da atividade econômica – obviamente, espeitada a justiça e função sociais. Essa disposição constitucional visa tutelar um objetivo maior de segurança jurídica: permitir que o desenvolvimento econômico (e social) ocorra com a maior autonomia possível das relações sociais, que os pactos sejam firmados e cumpridos com previsibilidade de riscos, garantindo-se a tutela da confiança. A nova disposição, ao presumir abusivo o pacto que opta por determinado foro para dirimir seus próprios conflitos, claramente, vai na contramão dessa garantia e representa, antes de tudo, um desprestígio à própria confiança e segurança que a Constituição Federal pretende assegurar.
E ainda que não se fale em inconstitucionalidade, no mínimo, a nova previsão se mostra antissistêmica em relação às normas civis e processuais já estabelecidas.
O Código Civil, mesmo antes da Lei da Liberdade Econômica (2019), já adotava como premissa a liberdade contratual. Após 2019, então, esse traço ficou ainda mais marcante com a previsão de que nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima (art. 421, parágrafo único, CC) e de que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos até prova em contrário (art. 421-A, caput, CC). Mais ainda: como compatibilizar o novo art. 65 do CPC com a realidade do art. 421-A do Código Civil, claro em prever que os contratantes podem “estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão” e que “a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada”? Se posso definir a alocação de meu risco, por qual razão não poderia, mutuamente, convencionar a solução do meu conflito por uma comarca com juízo especializado no tema?
No âmbito processual, a proibição simplesmente ignora a tônica trazida pela reforma de 2015 pautada pelo enaltecimento do autorregramento da vontade das partes. O art. 190 do mesmíssimo diploma legal, em sentido totalmente contrário, permite que as partes capazes em demandas que versem sobre direitos que admitam autocomposição, convencionem sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais e até estipulem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa – o que poderia ter a validade controlada pelo Judiciário apenas em situação de nulidade, abusividade em contrato de adesão ou envolvendo partes vulneráveis. Em situações tipicamente empresariais com partes paritárias, portanto, em regra, as convenções (entre elas, a livre eleição de foro) são permitidas. Ou seja, há uma incoerência dentro do próprio código processual.
Além de não se enxergar qualquer abusividade em tais situações, vale a pergunta: permitir a livre a escolha das partes quanto ao foro que julgará suas controvérsias não traria mais benefícios do que prejuízos à própria Jurisdição? Em termos mais amplos: não seria um instrumento de garantir um acesso à justiça mais qualificado? Entendemos que sim. Se a preocupação é realmente garantir ao jurisdicionado meios adequados de solução de seus conflitos, por que não permitir que o próprio prejudicado se socorra perante o foro que reputa mais especializado para a apreciação de sua matéria? De alguma forma, permitimos isso com a eleição da arbitragem como meio adequado de resolução de conflitos e ninguém põe em xeque sua validade.
5º) Na pior das hipóteses, se mantida, a disposição deveria se aplicar apenas a contratos firmados após 04.06.2024
Por fim, caso essa disposição seja realmente mantida em nosso ordenamento – a despeito de todos os fundamentos acima – no mínimo, espera-se que não seja aplicada a contratos firmados antes da reforma legislativa. Afinal, tempus regit actum (o tempo rege o ato). Em outras palavras, todo ato jurídico deve ser regido pela lei do tempo em que foi praticado. Não por outra razão o art. 6º da Lei e Introdução às Normas Brasileiras protege o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Aliás, o próprio art. 14 do CPC, ao estabelecer que a norma processual tem aplicação imediata e não retroage, excepciona o respeito às “situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada” – o que se encaixa perfeitamente a essa situação.
Admitir que um pacto convencionado por contratantes em um contexto em que a livre eleição de foro era permitida pela legislação não tenha força executiva seria um ato de deslealdade do próprio Poder Judiciário que, assim como as partes, também se sujeita ao dever de boa-fé (art. 5º, CPC). Não se cogita que o braço do Estado responsável por entregar pacificação e confiança entregue, ao contrário, insegurança. Que os pactos, entre os iguais, possam continuar a ser mantidos tal como avençados.
* * *
[1] Informações obtidas na plataforma DATAJud em acesso ocorrido em 02.09.2024.
Beatriz Valente Felitte
Doutora e Mestre em Direito Processual Civil pela USP. Advogada no Lollato Lopes Rangel Ribeiro Advogados em São Paulo.